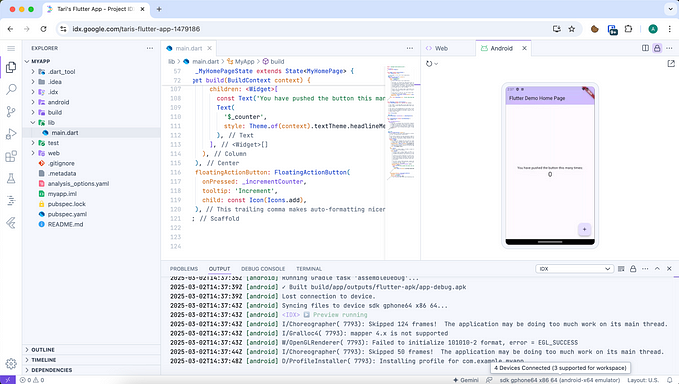O muro e o fogo
Rodrigo de Souza Leão e a autoficção como máquina de espelhos narrativos. Posfácio à reedição de Todos os Cachorros são Azuis (Selo Demônio Negro, 2019)

1. Moinhos de vento e chips na cabeça
“Ele é o herói do Mesmo. Assim como de sua estreita província, não chega a afastar-se da planície familiar que se estende em torno do Análogo. Percorre-a indefinidamente, sem transpor jamais as fronteiras nítidas da diferença, nem alcançar o coração da identidade. Ora, ele próprio é semelhante a signos. Longo grafismo magro como uma letra, acaba de escapar direto da fresta dos livros. Seu ser inteiro é só linguagem, texto, folhas impressas, história já transcrita. É feito de palavras entrecruzadas; é escrita errante no mundo em meio à semelhança das coisas.”
O trecho acima bem poderia estar se referindo ao protagonista de Todos os cachorros são azuis, primeiro livro de Rodrigo de Souza Leão, ou do último, Me roubaram uns dias contados — romances em que o narrador se desdobra em dois, ou às vezes três e quatro outros personagens, todos nascidos do mesmo um umbigo linguístico: as alucinações do autor Rodrigo de Souza Leão, às voltas com internações em clínicas, diagnósticos psiquiátricos e crises com familiares, amigos e médicos.
Mas, na verdade, é Michel Foucault, em As palavras e as coisas, falando de Dom Quixote — este ser que, ao ver-se protagonista de um imenso romance, sai da vida para se tornar um personagem; e que, só ao se ver personagem, consegue um espelho para entender a si mesmo. É um procedimento análogo ao de Souza Leão em sua prosa: o autor carioca, assim como o triste fidalgo da Mancha, também era um melancólico que combatia moinhos de vento. No caso de Souza Leão, os moinhos eram quaisquer pessoas que se aproximassem. Num processo de contínuo espelhamento, seu protagonista se projeta em vários entes externos, a quem odeia, e a quem quer eliminar.
Consegue, como Quixote, fazer um amigo — ainda que imaginário: Rimbaud , um interno que vive com ele em uma clínica psiquiátrica, e que, como Sancho Pança, é seu inverso (no entanto, em mais um espelhismo, na cela em que se ambienta o livro Todos os cachorros são azuis Souza Leão é o gordo, e Rimbaud, o magro).
“Dom Quixote é a primeira das obras modernas, pois que aí se vê a razão cruel das identidades e das diferenças desdenhar infinitamente dos signos e das similitudes: pois que aí a linguagem rompe seu velho parentesco com as coisas, para entrar nessa soberania solitária donde só reaparecerá, em seu ser absoluto, tornada literatura; pois que aí a semelhança entra numa idade que é, para ela, a da desrazão e da imaginação. Uma vez desligados a similitude e os signos, duas experiências podem se constituir e duas personagens aparecer face a face. O louco, entendido não como doente, mas como desvio constituído e mantido, como função cultural indispensável, tornou-se, na experiência ocidental, o homem das semelhanças selvagens”, escreve Foucault.
A história do romance é a história da loucura: o mais antigo dos romances, tido como o exemplar que fixou o gênero, é justamente um livro sobre um homem que tem alucinações, acredita piamente nelas, e as transforma em narrativas. No intenso e curto Todos os cachorros são azuis, o selvagem Souza Leão narra o princípio de seus surtos psicóticos: segundo ele, quando adolescente engoliu um grilo, que se tornou um chip em seu cérebro, um chip que ao mesmo tempo registra e difunde seus pensamentos. Então o narrador é um espião de si mesmo, sempre cometendo o crime de transparecer aquilo que lhe é mais íntimo; neste processo, os pais, os parentes e os médicos, ao tentar lhe administrar remédios, se tornam monstros, que querem arrancar do protagonista suas confissões mais escondidas. É um Mesmo que somente no processo de se multiplicar em inúmeros Outros consegue sentir-se Mesmo.
“Engoli um chip ontem. Danei-me a falar sobre o sistema que me cerca. Havia um eletrodo na minha testa, não sei se engoli o eletrodo também junto com o chip. Os cavalos estavam galopando. Menos o cavalo marinho que nadava no aquário.
Ele tem um problema mental. Será que tem alguma sequela? No fundo deste meu mundo, lá no quarto escurecido por doses de Litrisan, veio um psiquiatra e baionetou uma química na minha celha esquerda. Enquanto outro puxava a minha banha, esticando e esticando para que não sentisse a injeção de Benzetacil (…)
Mamãe mal chega, mal vai.
Ele continua achando que engoliu um chip.
Ela diz que tudo começou há uns dez anos, quando eu achei que havia engolido um grilo.
Quantos grilos você me fez engolir, filho.
Minha mãe disse isso afagando meus lábios e me dando um beijo na bochecha. Por alguns segundos lembrei-me de algo que havia acontecido no dia anterior. Eu havia quebrado toda a casa com fúria gigantesca. Nunca mais tomo Haldol na vida.
Foi por você não ter tomado Haldol que você ficou assim, diz o chip.” [Todos os cachorros são azuis, p. 13]
Neste movimento, o protagonista vence os moinhos de vento exatamente enquanto os narra. “O problema não consiste em ultrapassar as fronteiras da razão, e sim em atravessar como vencedor as da desrazão: então pode-se falar de uma ‘boa saúde mental’, mesmo que tudo acabe mal”, rebateria Gilles Deleuze em Crítica e Clínica, em seu ensaio sobre o norte-americano Louis Wolfson — autor de Le Schizo et le langues, diagnosticado com esquizofrenia, só consegue escrever em francês. “Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa criação de saúde, que é a uma possibilidade de vida.” Para Deleuze, a literatura, que é uma “saúde”, é um processo em aberto, ou seja, um devir, “uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido”, o porvir e o passado. Mas o devir é justamente um trâmite que nunca se fecha. “Devir não é atingir uma forma (…) mas encontrar a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação (…) o devir está sempre ‘entre’ ou ‘no meio’”, reflete Deleuze em “A literatura e a vida”.
Tanto em seu primeiro livro, Todos os cachorros são azuis, quanto no último Me roubaram uns dias contados, o protagonista-narrador das ficções de Souza Leão é um sujeito-devir — um homem preso em um elevador que nunca sabe se está subindo ou descendo, nunca sabe se as portas vão ou não se abrir. Ele está preso consigo mesmo neste elevador, um elevador que também é ele mesmo. E a própria forma de seu texto é um devir, pois, emparedado entre prosa e poesia, prende a ação em jogos linguísticos — rimas, espelhismos, metáforas, trocadilhos, citações. Encerrado em uma construção mise en abyme, ao tratar de um sujeito cuja única tarefa é imaginar a própria narrativa que efetivamente conta, cai de si mesmo para dentro de si mesmo.
Em Me roubaram uns dias contados, narra-se a simples e labiríntica história de um sujeito, Weimar, que mora em um quarto cheio de espelhos e telefones, os “gozofones”, os quais usa para manter contatos sexuais com várias mulheres e atraí-las a seu covil — ou melhor, à sua ratoeira. Não sabemos, no entanto, se os atos sexuais são reais ou se são frutos da imaginação ultraonanista do autor, que é dependente de neurolépticos e filmes pornôs. Logo o quarto é populado por outros personagens: Weimar, Mental, Vegetal, Vertigem, Eu, Você, Ela, Van Gogh brasileiro, Sósia, Gregor, Joseph, Sandra Rosa Madalena. E Rodrigo, claro. São todos personagens com quem dialoga o autor, Rodrigo de Souza Leão, lagarta apaixonada pela sua forma de borboleta, que logo mais voltará a ser lagarta: uma contínua metamorfose em que a forma só é outra quando retorna a ser idêntica a si mesma[S9] .
“Agora vou poder escrever quantos eus quiser. Eu sou samba. Do crioulo doido. De uma nota só. O meu mundo se divide entre os dias em que como queijo duas vezes por dia e o dia em que só posso comer queijo uma vez ao dia, e ainda o dia que não tem queijo. São três dias diferentes. Sou um rato preso numa ratoeira. Um colibri sem asas. Um inseto. Um eu deslocado de tudo e todos. Mudo continuamente de segundo a segundo. As palavras aqui não são pensadas. São pesadas. Grama a grama. Pesam uma tonelada. Uma baleia. Um elefante. Eu não sou eu. Sou eus. Todos que estão aqui até agora. Todos os homens e mulheres que estão neste livro são eu: um deus. Estou em todos os lugares o tempo todo. Ao mesmo tempo em lugar nenhum. Ou em um lugar comum, feito José Agrippino de Paula.” [Me roubaram uns dias contados, p. 305
Em A História da Loucura, Foucault propõe o famoso conceito do “prisioneiro da passagem”, situando o “louco” como o ser que não conseguiu fazer a passagem entre o delírio [S11] e a linguagem, e portanto ficou preso. O delírio, um meio aquático e caótico, não se ordenou do outro lado, e o louco ficou preso em um discurso que — ao contrário do que vulgarmente se traduz como surto — não “sai de si”. “Fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de mil braços, ao mar de mil caminhos, a essa grande incerteza exterior a tudo. É um prisioneiro no meio da mais livre, da mais aberta das estradas: solidamente acorrentado à infinita encruzilhada. É o Passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem”, escreveu Foucault.
“A terceira margem do rio é um exemplo de transleitura do rio. Por isso também desde o século XVII dizemos que os loucos estão ‘fora de si’. Hoje dizemos que alguém está ‘fora da casinha’. Em si é bom. Fora de si não é bom”, ironiza Christian Dunker em Reinvenção da intimidade. No ensaio “Solidão: modo de usar”, o psicanalista reflete como a maioria dos protagonistas de clássicos são heróis solitários e desterrados — Dom Quixote, Hamlet, Don Juan, Fausto. São evadidos, exilados, desnorteados, sem eixo. Ironicamente, os heróis de Souza Leão nunca saem do lugar: como o herói de Xavier de Maistre, suas viagens são sempre ao redor de seu quarto. Ele “sai de si” dentro de um quarto — seja o quarto da casa da família, seja a cela da clínica onde se interna. Neste ato de autoexílio, se desnuda aos olhos dos leitores. “O pior da prisão é nunca poder fechar a porta”, refletia Julien Sorel durante um dos maus momentos [S12] que atravessava em O vermelho e o negro, de Stendhal. De fato: “o autoisolamento é uma experiência simbólica, não uma exclusão física”, escreve Dunker. “Pense no castigo que é a prisão e veja se já ali algum isolamento ou privacidade.”
Souza Leão, ao “sair de si”, encontra a si mesmo do outro lado, lutando contra chips indiscretos, mulheres insaciáveis, médicos horríveis, livros inumeráveis, remédios pesados e pacientes depressivos, assim como Cervantes tocava pacientemente o seu velho cavaleiro, que só se conseguira se realizar como seu verdadeiro eu, um guerreiro indômito, ao atacar moinhos de vento nos quais visualizava monstros.
2. Notícias de uma guerra particular comigo mesmo
“Tudo é pequeno
A fama
A lama
O lince hipnotizando a iguana
O que é grande
É a arte
Há vida em Marte.”
Estranho poema este, o último postado por Rodrigo de Souza Leão em seu blog Lowcura. Cinco dias depois, em 2 de julho de 2009, morria o jornalista, músico, poeta, prosador e pintor, em circunstâncias nebulosas, numa clínica psiquiátrica do Rio de Janeiro. O poema parece uma despedida, e, além deste texto, Souza Leão deixou uma “carta final” à família. Mas teria morrido de causas naturais, o que afastaria uma possível hipótese de suicídio. A morte é um dos mistérios que cercam a vida deste carioca nascido em 1965: um ponto final que, paradoxalmente, colocou em circulação sua obra, hoje objeto de culto.
A peça Todos os cachorros são azuis, adaptação de Ramon Nunes Mello para o teatro do romance homônimo (7Letras, finalista do Prêmio Portugal Telecom), estreou em julho de 2009. Este texto e os romances O esquizoide — Coração na boca (Record) e Me roubaram uns dias contados (Record), todos editados somente após sua morte, tiveram os direitos comprados pelo ator Cauã Raymond, que pretende atuar no papel de Souza Leão, em filme cuja produção está prevista para 2020. Por fim, uma exposição com suas pinturas foi aberta em novembro no MAM em 2009. Em 2019, o Selo Demônio Negro começa a lançar uma reedição de sua poesia, a maior parte inédita em papel, organizada pelo poeta e ensaísta Nunes Mello, bem como uma nova edição de seus romances em prosa (este texto posfacia a reedição de Todos os cachorros são azuis, lançada em setembro).
Tudo começou com um grilo na cuca; ou, talvez, com um chip no cérebro. “Um dia ele surtou e saiu correndo pelas ruas de Botafogo. Dizia que havia sido atingido por um dardo disparado por um japonês, que introduzira um chip no seu cérebro. Nesse mesmo dia foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde ficou por três semanas“, conta seu pai, o médico Antonio de Souza Leão. Já aos 17 anos Souza Leão havia sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide, agravada por transtorno obsessivo compulsivo. Tratando-se com neurolépticos, conseguiu se formar em jornalismo e arranjar emprego como auxiliar de escritório na Sasse (seguradora da Caixa Econômica); a chatíssima ocupação foi decalcada no livro de estreia, Carbono pautado: Memórias de um auxiliar de escritório (Record).
Não era a primeira arte de RSL: ele tinha sido vocalista da banda Pátria Armada, confessadamente inspirada na Legião Urbana. “Renato Russo foi seu maior ídolo”, diz o pai. Torcedor do Flamengo, clube onde praticava triatlo, Souza Leão era vaidoso, mantinha a forma dando voltas na lagoa Rodrigo de Freitas, vestia-se quase sempre de preto, tinha o apelido de Elvis e muitos amigos e namoradas na Faculdade da Cidade. Esta vida “normal” foi irremediavelmente perdida naquela tarde em Botafogo: dos 23 anos em diante, nunca mais saiu à rua sozinho.
“Atrás de mim, um japonês tirou uma zarabatana pequenina para fora, soprou e inoculou em mim a bomba“, escreve Souza Leão em O esquizoide. Antes da bomba implantada, porém, houve um chip; e, antes do chip, um grilo. “Tudo começou quando engoli um grilo em São João da Barra. Tinha 15 anos de idade. Estava indo ou voltando. Só parava pra voar“, anota em Todos os cachorros são azuis, misto de registro da experiência na clínica com romance policial nonsense.
Depreende-se desses trechos que o escritor usava com perspicácia as próprias alucinações, vertendo-as em corpo narrativo. Operação triangulada em mise en abyme: o narrador Souza Leão registra o autor Souza Leão surtado que continuamente arma situações a serem criticadas pelo personagem Souza Leão. Se toda ficção é reinvenção da biografia, como a prosa pode ser verossímil quando a própria biografia é controversa?
A saída deste narrador nada confiável é a galhofa tinta com melancolia. Seu romance mais ambicioso, Me roubaram uns dias contados, é um labirinto de espelhos, um parque de diversões frequentado apenas por Souza Leão e o leitor. Inicia com uma engraçadíssima seção focada em um sujeito chamado Weimar, que jamais sai do apartamento, onde tem dez telefones — os “gozofones” –, usados para sexo à distância. Weimar atrai a seu covil onanista as garotas Vegetal, Mental e Vertigem. Interrompe a suruba para ler um livro de 600 páginas — ficção envolvendo Nietzsche, Alan Kardec e Daniel Boone –, e tem início a segunda seção, em que o narrador detalha, na terceira pessoa, a rotina repetitiva de um certo Rodrigo e da mulher por quem ele está apaixonado.
O hipnótico texto tem toques de paradoxal poesia — “Ninguém se conhece tanto a ponto de abrir a porta para um estranho sem saber que este estranho é ele mesmo” — e presságios tragicômicos: “Alguma coisa acontece no meu coração. Será um infarto do miocárdio?“.
Divertindo-se com o fato de que o tal Rodrigo não consegue ser publicado por nenhuma editora — os editores desconfiam de seu transtorno mental; ele seria “um louco lúcido demais” –, o texto vai da sarcástica autopiedade ao auto-ódio profundo sem cessar, sempre em frases curtas, secas, sem verbo, num discurso em que a livre associação de ideias monomaníacas deixa entrever um rico panorama do Brasil dos anos 1980 e 1990, habitado por colagens de textos de Legião Urbana, Titãs e Cazuza, bem como de Drummond, João Cabral, Proust, Rimbaud, Kafka, Beckett, Baudelaire — além, dizem, de frases dos amigos com quem Souza Leão conversava ao telefone no momento da elaboração deste romance.
Na seção seguinte, um homem é perseguido por seu sósia — o Sósia, claro. Depois o Sósia se torna pintor celebrado, o “Van Gogh brasileiro” — exatamente o contrário de Souza Leão, que, na época da escrita do romance, iniciava um curso de pintura no Parque Lage. À parte o tortuoso argumento, transtornos mentais, remédios e reclusão ocupam o centro da escrita: todos os personagens são Rodrigo de Souza Leão — e todos não.
Vivendo a doença mental como plano de fuga e ao mesmo tempo realidade multidimensional, Souza Leão se inscreveu em uma esquiva linhagem da nossa literatura. O cânone desta escrita de autobiográfica investigação psicopatológica alinha do Lima Barreto em O cemitério dos vivos ao Lourenço Mutarelli de A arte de produzir efeito sem causa, passando por José Agrippino de Paula em Lugar público, Renato Pompeu em Quatro-olhos, Carlos Süssekind em Armadilha para Lamartine, Orides Fontela em Teia e Maura Lopes Cançado em Hospício é Deus.
“Acho que não temos muito como fugir desta ‘tradição’ de tratar os transtornos mentais na escrita, porque a poesia dele dialoga frontalmente com isso“, confirma a ensaísta Heloísa Buarque de Hollanda. “Esse leve deslocamento para um ponto de vista de onde pode olhar a doença é um traço marcante de Souza Leão, que traz uma levada muito pessoal com sua dicção poética. Por outro lado, ele combina esse universo intenso à leveza da geração 00, que também vive a imersão na internet, o que traz definitivamente um diferencial para seu texto“, conclui.
Para este artista ermitão, a rede foi raro canal de comunicação com o mundo. Além dos romances, Souza Leão publicou em vida os livros de poesia Há flores na pele (Trema, 2001) e Caga-regras (Virtualbooks, 2009), fora dez e-books, além de dezenas de textos na internet. Através do Balacobaco, e-zine que começou ainda nos anos 90, de Germina e de Zunái, editado com o poeta e tradutor Claudio Daniel, Souza Leão entrevistou cerca de 150 escritores brasileiros — feito jornalístico raro até para quem só vive disso.
Daniel refuta a doença mental como endereço a situar Souza Leão como “poeta maldito“. “Ele era gentil, sincero e generoso, tinha muito humor“, lembra. “Abordava temas incômodos, como esquizofrenia e internação hospitalar, incluía em seus versos a gíria, a linguagem urbana, o palavrão; mas o rótulo ‘poeta maldito’ é ficção publicitária. Ele está incluído, sim, entre os melhores poetas brasileiros surgidos a partir do fim do século 20, por sua originalidade temática e vocabular“, defende.
“A ficção e a lírica de Souza Leão são pontilhistas, jamais lineares — como os lampejos sem pé nem cabeça de um xamã urbano“, analisa o escritor e crítico Nelson de Oliveira. “Como em Maura Lopes Cançado, na escrita de Souza Leão a esquizofrenia não é recurso retórico: é real. O escritor, o narrador e o eu-poético, terminado o trabalho literário, não tiram a máscara da loucura, tomam um banho, ligam a tevê e voltam ao ‘normal’: a máscara da loucura é seu verdadeiro rosto“, diz.
A não-linearidade de Souza Leão foi justamente o que atraiu o ator Cauã Reymond. “Os vários personagens que Rodrigo criou permitem uma narrativa cinematográfica muito criativa. É genial a maneira como ele faz os dois planos interagirem, o real e aquele que percebe pelo filtro da esquizofrenia. E o Rodrigo era um esquizofrênico consciente da condição, o que torna a história mais fascinante. A prosa aparentemente caótica é orgânica, te transporta direto para dentro daquele universo que, em seu caos, é muito coerente“, entusiasma-se o ator.
Assim como aconteceu com outros escritores que participam deste cânone bastante heterodoxo — Agrippino de Paula, com o cinema, o teatro e a dança; Mutarelli, com os quadrinhos, o cinema, o teatro e a pintura –, a criatividade de Souza Leão também extrapolou os limites do alfabeto. Em seus últimos anos, sua arte vazou para a expressão pictórica. “Meu objetivo ao convidá-lo para um curso no Parque Lage foi interromper a síndrome de pânico que fazia com que Rodrigo não saísse de casa há vinte anos“, lembra o crítico e professor de arte Paulo Sérgio Duarte, seu tio, que se surpreendeu com suas obras iniciais. “Se, observando a obra literária, você encontra referências típicas dos anos 1980, as pinturas que o Rodrigo realizou pertencem claramente à chamada Geração 80“, afirma. “Ainda que iniciante, sua pintura tem bastante interesse“, releva seu professor, João Magalhães (morto em 2019): “Ele apresenta uma narrativa repleta de uma simbologia muito pessoal mesclando drama e humor, como seu texto“, diz.
O incipiente trabalho visual foi descontinuado por novo surto, ocasionado, curiosamente, por uma novela da Rede Globo. Souza Leão ficou muito impressionado com Tarso, personagem de Bruno Gagliasso na novela Caminho das Índias: um esquizofrênico que dera um tiro no irmão da namorada. “Ele achava que fazer Tarso cometer um crime era um estímulo perigoso a outros enfermos“, revela o poeta Affonso Romano de Sant’Anna, que costumava travar longas conversas com Souza Leão por telefone. O escritor se revoltou com o que achava uma abordagem estereotipada da esquizofrenia e publicou no Jornal do Brasil uma dura carta à novelista Glória Perez.
“Rodrigo acalentou um medo de matar o irmão, Bruno, e foi irredutível em querer se internar“, recorda o pai. “No dia 28 de junho, foi voluntariamente à clínica. Visitei-o no domingo levando o JB com sua carta, mas ele mal conversou comigo, parecia ausente; depois soube que agredira um enfermeiro — estranhei, pois Rodrigo nunca fora agressivo.” Antes de ser internado, Souza Leão deixou uma carta de despedida, mas sua morte, a 2 de julho de 2009, permanece insolúvel.
Como não havia sinais de violência, a família optou por não fazer autópsia. “Ele fumava três maços de cigarro por dia, era hipertenso, fatores que podem ter contribuido para o infarto do miocárdio… bem como, talvez, uma dosagem maior dos medicamentos psiquiátricos. Pela carta, é explícito que seu sofrimento psíquico era grande. Mas o que realmente aconteceu jamais saberemos. Teria inconscientemente procurado o suicídio? Não sei te responder“, diz Antonio de Souza Leão — que é, aliás, também personagem de Me roubaram uns dias contados. A carta exibe a típica autocomiseração temperada de sarcasmo.
“Tomara que exista eternidade. Nos meus livros. Na minha música. Nas minhas telas. Tomara que exista outra vida. Esta foi pequena pra mim. Está chegando a hora do programa terminar. Mickey Mouse vai partir. Logo nos veremos de novo (…) Desculpem-me o mau humor. É que tudo cansa kkkkk [sic]“.
Um texto tocante, mas talvez não o mais memorável da obra de Souza Leão. Seu peculiar coquetel de surrealismo singelo, fina ironia e melancolia confessional, em sentenças de fatura lógica, rimas claras e musicalidade imediata, será lembrada por textos como o poema “Caixa de fósforos“:
“Eu não saio pra ver a vida
Eu vivo ávido de vida
A vida está aqui dentro
Tão dentro que estou morto
Pronto pra pegar fogo“.
3. Sair de si para só falar de si
Com notáveis vivacidade, transparência e criatividade, os romances de Souza Leão assinam o chamado “pacto autobiográfico”, termo cunhado por Philippe Lejeune: uma definição em que a autobiografia se define, grosso modo, como “todo texto onde autor, narrador, e personagem principal se identificam” na mesma figura que conduz a narrativa. É a chamada autoficção, que une a santíssima trindade de Serge Dubrovsky: protagonista = narrador = autor. Em “A autoficção e os limites do eu”, Leyla Perrone-Moysés desenha uma genealogia da autoficção, partindo de Montaigne e chegando até Karl Ove Knausgård, passando por Rousseau e Robbe-Grillet.
Ela lembra que Philippe Gasparini, em seu livro Autofiction: Une aventure du langage (2008), “definia algumas das características obrigatórias do gênero: identidade explícita do nome do autor com o nome do personagem-narrador; uma escrita visando a verbalização imediata; a reconfiguração do tempo linear, por seleção, fragmentação, inversão cronológica. mistura de épocas; objetivo expresso, pelo narrador, de narrar fatos reais e de revelar sua verdade interior. A última condição é discutível”, comenta Perrone-Moysés.
No caso de Souza Leão, mais discutível ainda. Afinal, um dos procedimentos usados pelo autor para narrar é justamente criar ficções a partir de episódios objetivamente reais acontecidos com ele. Machadianamente, ele é um autor nada confiável, posto que ficcionaliza o tempo todo sobre os fatos que lhe aconteceram, como a internação em clínica em Todos os cachorros são azuis. Portanto não se pode dizer que sua escrita representa o real. Perrone-Moysés se apoia em Roland Barthes para demolir a tese da unidade do “eu” na autoficção: para Barthes, o real não pode ser representável, mas somente demonstrável, não pode existir paralelismo direto entre o real e a linguagem.
“Assim, na linguagem escrita, logo que o enunciador diz ‘eu’, ele se desdobra em dois: aquele que enuncia no mundo real e aquele outro que passa a existir por escrito. ‘Eu é um outro’, disse Rimbaud há muito tempo”, insiste a crítica. “A discussão sobre o caráter verdadeiro dos fatos narrados na autoficção é ociosa. Toda e qualquer narrativa, mesmo aquelas que se pretendem mais coladas ao real, têm algo de ficcional.”
Uma das exigências para que uma autoficção seja literatura de alto nível, para Perrone-Moysés, “não é a fala de um eu vaidoso e autocomplacente, mas de um eu que se busca e se autoquestiona com honestidade (…) e a impressão de honestidade é criada pelo discurso”. Este honesto questionamento lemos o tempo todo em Souza Leão: enquanto narra, ele critica o que narra, em uma operação que se autoalimenta além do limite do extenuante para o leitor — só não exaure nossa paciência pois a operação é, como dito, tinta com galhofa e melancolia, como em um stand-up de Louis CK.
A autodepreciação dilui o dilaceramento com que o narrador vê a si mesmo, numa vertigem que a mera mirada no espelho propõe monstros. A metamorfose, processo em que o ser é Outro enquanto Mesmo, se torna uma máquina de criar espelhos, e estes espelhos necessariamente são simulacros; portam narrativas de outros seres.
A necessidade de narrar “fatos reais”, ou seja, a “realidade objetiva”, torna-se inviável: qual Rodrigo de Souza Leão é o verdadeiro? Não por acaso Michel Beaujour, em Espelhos de tinta — Poéticas do Autorretrato, afirma não haver escrita menos inocente, “mais dilacerada e dilacerante”, que aquela do auto-retrato: “Na autoficção, não há nada a esconder nem a confessar, exceto o que é produzido pela mera retórica. O Eu que escreve não é nada mais que um ‘livro dentre livros’”.
Do que trata esse contínuo multiplicar de selfies? Assim como o autorretrato, a autoficção não é apenas uma imagem de si, mas uma imagem de si no mundo. É assim tanto uma imagem do mundo em nós quanto de nós no mundo. Essa relação do sujeito no mundo é constitutiva da própria ideia de autorretrato desde suas origens, na pintura ou na literatura. Assim, também a autoficção se define pela dialética entre o sujeito e o mundo que o rodeia.
A operação usa também do paradoxo, do espelhismo, de trocadilhos, de citações, de negações, da inversão e da repetição de palavras e de frases curtas para apreender o leitor em sua armadilha. O lirismo próprio ao poeta também preenche o livro, mais do que a narração de ações ou a descrição de paisagens objetivamente reais. Neste processo, a própria paisagem “real”, de tão porosa com a subjetividade do narrador, acaba se desvanescendo, e se tornando “impalpável”.
“Solidão a dois. Estou tão sozinho que não me sinto só. Já me acostumei à minha vida assim. É como se você entrasse na minha vida e eu perdesse o meu eu. Não sei mais o que eu quero. Estou inseguro. Diante de um muro. Você é o muro. Rodrigo é violento. Gosta de socar muros para ficar com as mãos mais fortes. Não pode. Só sei que nosso amor não pode. Tenho que me negar para me afirmar. As coisas são complexas e simples. Complexas como moléculas. Simples como átomos. Complexas como o amor e simples como a paixão. Ou seria o inverso? Tudo tão impalpável. Quero nitroglicerina na veia. Quero me incendiar de você. E você, leitor? O que quer? Você que ainda lê este diário que não é um diário. Este livro que não é um livro.” [Me roubaram uns dias contados, p. 163]
Neste curto período, temos duas grandes imagens que perpassam toda a obra de Souza Leão: o muro e o fogo. Ambas as imagens estão aparentadas em um de seus melhores poemas, “Caixa de fósforos”. São também imagens que aproximam os conceitos de contenção e explosão — como o universo hiperconcentrado antes do Big Bang, “pronto pra pegar fogo”. O autoencarceramento, longe de torná-lo uma pessoa isolada, fazia, paradoxalmente, com que Souza Leão buscasse o Outro. Sua distância do convívio social, motivada pelo uso continuado de substâncias químicas e pelo seu próprio medo de se tornar uma pessoa agressiva, fazia com que o autor se trancasse em seu quarto. Mas se trancava para se comunicar com o mundo exterior. Nisso, Souza Leão puxava, para o dentro de sua própria obra, o diálogo com outro célebre autor autoencarcerado: Kafka.
“Desde muito cedo, Kafka trocara o convívio da família pela permanência em seu quarto — a esse estavam confiadas as tarefas que mais lhe importavam (…) As horas desde cedo dedicadas a cartas e diários constituem um volume tamanho que não lhe sobraria muito tempo par ir alé de seus autores favoritos (…) A ocupação com a escrita ainda, de imediato, implicava o pequeno contato com o cidadão da rua”, escreve Luiz Costa Lima no exame que faz da obra kafkiana em Melancolia.
Com seus notórios diários e aforismos escritos na primeira pessoa, sem contar as narrativas cujos protagonistas são personagens indicados com nomes óbvios, como K. ou Josef K., Kafka produziu peças fabulosas da autoficção, como a Carta ao Pai. O ensimesmamento e o enclausuramento na escrivaninha, no entanto, se traduzem em uma imensa necessidade de convívio com o Outro. Um procedimento semelhante ao de Souza Leão, que, de sua mesa de trabalho, entrevistou dezenas de escritores, entabulou diálogos com artistas contemporâneos por e-mail, telefone e chat.
A nota original em Souza Leão é arrastar essas operações para dentro de sua própria obra. Além das supracitadas menções a artistas de sua devoção, Souza Leão também usava em sua prosa aspas de diálogos tidos com amigos e entrevistas com escritores (quase sempre sem declinar a origem), o que aproxima seu texto da estética da apropriação — num procedimento também chamado de sampleagem por sua cercania com a música criada por produtores de música eletrônica, que incluem amostras (samplers) de sons preexistentes em suas obras.
Esta apropriação também se remete à própria dinâmica de tais encontros com o Outro. Em Me roubaram uns dias contados, Souza Leão inventa a máquina “gozofone”, nada mais do que um telefone conectado a uma profissional do amor, o velho e bom telessexo, hoje (2019) já substituído por aplicativos de encontros como Tinder e redes sociais como o Instagram. A vida de Souza Leão e de seus narradores lembra um comportamento muito frequente no Japão contemporâneo.
“Note que o fenômeno dos hikikomori, ou seja, os que estão ‘solitários em casa’, pertencia a uma família que inclui os herbs, que não se interessam pelo casamento e pelo sexo, e os nem-nem ou neets, que nem trabalham nem estudam”, reflete Dunker em Reinvenção da intimidade. “Tudo indica que teremos cada vez mais espaço para esse tipo de subjetividade definida por uma espécie de errância do desejo, de descompasso com o mundo, de desencontro frequente com o Outro, de desagregação de relações familiares”, sugere Dunker.
Curiosamente, este narrador de Souza Leão, no começo dos anos 2000, antecipa o comportamento de milhões de japoneses dos anos 2010 (fenômeno social registrado no inquietante romance Minha kombini, de Sayaka Murata). Mas seria este comportamento isolado uma forma de crítica social? Dunker o entende como uma suspensão da demanda, “que não pede nada e que não oferece nada, e se concentra apenas na construção de muros (…) Os hikikomori, os herbs e os neets fazem uma crítica social eficaz ao nosso modo de vida. Ao elevar a ‘vontade livre’ ao paroxismo, podemos ver, através de sua forma de vida, até que ponto nossa forma de vida é inviável, orientada pelo binômio bipolar produção-consumo”.
Os protagonistas de Me roubaram uns dias contados usam uma “rede social” rudimentar: os “gozofones”. Neste sentido, antecipam um comportamento contemporâneo, em que a vida acontece virtulmente dentro das redes sociais. Os encontros são sempre mediados pela tecnologia, nunca são espontâneos. Não há encontros em espaços públicos, em restaurantes, em clubes, em bares, nas ruas: os encontros têm um objetivo final pragmático para ambos os lados da comunicação — o sexo. É o fogo cercado de muros por todos os lados. “Os hikikomori, apesar de conhecidos por evitar o contato com outras pessoas, comunicam-se por redes sociais”, lembra Dunker.
“É de Darwin a seguinte observação: ao chegar em uma ilha afastada do Pacífico, ele podia ver sinais de colonização local porque havia pelo menos ua prefeitura e um bordel (…) Nossas duas estratégias elementares de enfrentar o espaço indeterminado, ou seja, definindo-o de fora para dentro pelos muros e de dentro para fora pelo que, desde nossa fantasia, não se inscreve no espaço público, o que deve ser posto entre quatro paredes e o que não pode sair de quatro paredes. Há um equivalente desse processo quando pensamos nesse novo espaço que é o da vida digital. Rapidamente, a oferta de poder se contactar com qualquer um gerou fenômenos de sexualização e de condominização.”
Para Paul Ricoeur, “a literatura inventa o mundo”: a ilusão precede o real. Parece que Souza Leão teve uma intuição certeira ao trazer para dentro de seu quarto todas as garotas com quem faz — ou sonha em fazer — sexo, ao mesmo tempo em que hiperpopula seu pequeno espaço com outros protagonistas copuladores. Em sua investigação acerca das dissolventes fronteiras do fora e do dentro de sua própria esquizofrenia, o escritor captou uma tendência do comportamento moderno: viver a “vida virtual” como se fosse a “vida real”. Se você olhar de perto, não há nada de anormal nas vidas de Weimar, Rodrigo e o Sósia: eles fazem o mesmo que qualquer adulto urbano de qualquer megalópole da Terra. Porque, se você olhar de perto, ninguém é normal.
Bibliografia
BEAUJOUR, Michel. Poetics of the literary self-portrait. Nova York, NYU Press, 1992.
BRESSANE, Ronaldo. “A lucidez póstuma do poeta.” São Paulo, Folha de S.Paulo, 6 de novembro de 2011.
COSTA LIMA, Luiz. “A literatura como prisão”, in Melancolia, São Paulo, Unesp, 2017.
DUNKER, Christian. Reinvenção da intimidade. São Paulo, Ubu, 2017.
FOUCAULT, Michel. A história da loucura. São Paulo, Perspectiva, 2014.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo, Martins Fontes, 2016.
LEJEUNE, Philipe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2008.
PERRONE-MOYSÉS, Leyla. Mutações da literatura no século XX. São Paulo, Companhia das Letras, 2016.
SOUZA LEÃO, Rodrigo de. Todos os cachorros são azuis. Rio de Janeiro, 7Letras, 2008.
SOUZA LEÃO, Rodrigo de. Me roubaram uns dias contados. Rio de Janeiro, Record, 2009.